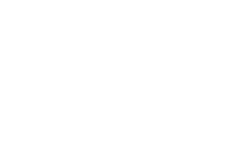10 razões para não se instituir cota para mulheres no Legislativo
 O Senado Federal aprovou, em primeiro turno, no dia 25 de agosto passado, Proposta de Emenda à Constituição nº 98/2015 que reserva quantidade mínima de vagas, por gênero, nas representações legislativas em todos os níveis federativos.
O Senado Federal aprovou, em primeiro turno, no dia 25 de agosto passado, Proposta de Emenda à Constituição nº 98/2015 que reserva quantidade mínima de vagas, por gênero, nas representações legislativas em todos os níveis federativos.
O objetivo por trás da proposta é aumentar a participação feminina na política, considerada muito baixa para os padrões internacionais, em especial nos Parlamentos brasileiros.
Aumentar a representatividade feminina nas Casas Legislativas através de cotas é tema controverso, assim como o é, de resto, o estabelecimento de cotas sociais e raciais em geral.
Já há uma cota de gênero na legislação eleitoral infraconstitucional. Com efeito, em eleições proporcionais recentes a grande imprensa nacional deu destaque a três episódios bizarros (retratados no artigo “Millane, Constância e Juvina”, de nossa autoria), envolvendo o cumprimento da regra que a jurisprudência convencionou denominar de “cota eleitoral de gênero”.
Esta cota refere-se ao dispositivo da Lei Eleitoral (Lei 9.504/97, art. 10, §3º) que estabelece, verbatim:
“…cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo” (redação dada pelo art. 3° da Lei 12.034/09).
Note-se que o mínimo e o máximo na redação do §3º se aplicam a ambos os sexos, mas o legislador buscava mesmo era garantir maior participação das mulheres nas eleições, historicamente em número diminuto.
Pois bem, no afã de preencher a cota mínima com o gênero feminino, os partidos saem desesperados à cata de mulheres que se disponham a filiar-se e a candidatar-se por suas cores.
Essa varredura é feita, naturalmente, sem nenhum critério de qualquer ordem: vocação, afinidade programática, dimensão eleitoral, etc. O que importa mesmo é preencher a cota e evitar penalidades. Daí a ocorrência dos episódios inusitados acima referidos.
Até aí, tudo bem. Trata-se de exigência legal que assegura um piso de candidatura por gênero. Quer dizer, almeja-se que a disputa eleitoral tenha um mínimo de equilíbrio relativo entre sexos, que não haja predominância excessiva de um sobre outro.
Agora é diferente: o novo dispositivo constitucional garante vaga no Parlamento por gênero (no caso, pela evidência empírica, para as mulheres), na proporção de 10%, 12% e 16% das cadeiras, nas próximas três legislaturas.
Assegurar a presença feminina nas disputas eleitorais, como forma de estímulo à sua participação na política, é uma coisa. Outra coisa é desequilibrar a competição eleitoral reservando vagas parlamentares para as mulheres, independentemente de suas votações.
A decisão do Senado é totalmente imprópria*.
Primeiro, a vontade do eleitor não é respeitada. Ao substituir homens eleitos por mulheres suplentes para preencher a cota (vide art. 101 das Disposições Transitórias da Carta Magna, introduzido pela referida PEC), viola-se a preferência original do eleitor, que votou em A e não em B;
Segundo, transgride-se o princípio universal da democracia representativa de “um homem, um voto”. No caso, o voto das mulheres vale mais que o voto dos homens;
Terceiro, afeta a proporcionalidade da representação no Legislativo. Nos sistemas proporcionais os estamentos político-sociais se fazem representar no Parlamento em função de sua dimensão eleitoral. A reserva de vaga interfere artificialmente neste alicerce;
Quarto, diminui o vínculo entre o eleitor e o parlamentar. O eleitor tinha elos de ligação com o seu representante a quem lhe conferiu o voto, não com seu substituto, em quem não votou. Este, por seu turno, sente-se também distante e descompromissado com o eleitor, que nunca foi seu;
Quinto, reduz-se o acompanhamento, a responsabilização (accountability) da atividade parlamentar pelo eleitor. Como o eleitor não se sente representado por alguém a quem não deu o voto, fica também alheio às suas atividades legislativas;
Sexto, aumenta a personalização da representação parlamentar. Posto que a ascensão ao Legislativo é por cota legal, não por méritos quantitativos de votos, a mulher sentir-se-á mais independente de orientações e compromissos partidários, bem como de ligações com as bases eleitorais.
Sétimo, acirra a competição individual intrapartidária. Com a ameaça de que mesmo eleitos podem ser substituídos por suplentes mulheres, os homens vão intensificar a disputa interna nos partidos por uma maior votação para fugir das últimas colocações, as que serão objeto de defenestração para assegurar o cumprimento da cota.
Oitavo, a quantidade de votos da representação é sempre diminuída quando a cota é aplicada. Como as mulheres que ascendem ao Parlamento são suplentes, elas são, por definição, menos votadas que os homens de quem vão tomar o lugar. Por exemplo, num exercício da aplicação da cota à eleição de 2014 para deputado federal em Pernambuco, trocar-se-ia um homem eleito de 101.452 votos, por um mulher suplente de 1.125 votos.
Nono, a alienação eleitoral (abstenção mais votos brancos e nulos) tende a aumentar. A constatação de que há intervenção arbitrária na composição original do Parlamento, tornando incerta a eleição de seus candidatos preferidos, é um desincentivo a mais para o eleitor comparecer aos pleitos e votar em candidatos.
Décimo, haverá perda de qualidade produtiva na representação. Aos partidos não importa se as mulheres têm baixa votação ou se são desprovidas de vocação para o exercício parlamentar. O importante é que elas sejam suplentes, condição na qual, eventualmente, podem integrar o Legislativo no processo de aplicação da regra da cota.
Uma maior inserção das mulheres na política é, sob todos os títulos, desejável e necessário. Mas isso é uma questão cultural e parte de um processo que requer outros estímulos que não o de amarras legais embutidas nas cotas de gênero.
As opiniões aqui expressas são de responsabilidade de seu idealizador.